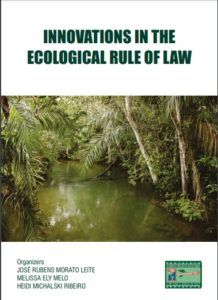Cervejaria e distribuidora são condenadas por cacos de garrafas na rua
Por integrar a cadeia de fornecimento, nos moldes previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, uma fabricante de bebidas foi considerada, pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, solidariamente responsável pelo acidente causado por cacos de garrafas que uma de suas distribuidoras deixou em via pública.
Com a manutenção do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a fabricante e a distribuidora deverão pagar indenização por danos morais de R$ 15 mil à vítima do acidente, que foi equiparada à condição de consumidor para efeito de aplicação das normas protetivas do CDC.
Segundo a ação, o pedestre caminhava na calçada quando, ao perceber que um caminhão não identificado trafegava com uma das portas abertas, jogou-se ao chão para não ser atingido, mas acabou caindo em cima de várias garrafas quebradas. Os cacos haviam sido deixados na calçada após outro acidente, ocorrido durante o transporte de garrafas por uma das distribuidoras da fabricante de cerveja.
Equiparação
Em primeira instância, a fabricante de bebidas e a distribuidora foram condenadas, de forma solidária, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15 mil. A sentença foi mantida pelo TJ-RJ. O tribunal concluiu que, de acordo com o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, a vítima se enquadrava na definição de consumidor por equiparação, por ser vítima do acidente de consumo causado pelas rés.
Por meio de recurso especial, a fabricante alegou que a relação jurídica discutida nos autos não seria de consumo, motivo pelo qual não caberia a aplicação do CDC. Defendeu também que a responsabilidade seria exclusivamente da transportadora, já que sua própria atividade está restrita à produção das bebidas.
A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, explicou que a legislação amplia o conceito de consumidor para abranger qualquer vítima, mesmo que nunca tenha mantido relação com o fornecedor.
No caso dos autos, a ministra também lembrou que, embora a fabricante se dedique exclusivamente à produção das bebidas, o consumo desses produtos não ocorre no interior das fábricas, mas em locais como bares, clubes ou nas casas dos consumidores. Para que isso ocorra, explicou a relatora, é necessário que os produtos sejam transportados até o público consumidor, e todo esse processo compõe um único movimento econômico de consumo.
“A partir dessas considerações, exsurge a figura da cadeia de fornecimento, cuja composição não necessita ser exclusivamente de produto ou de serviços, podendo ser verificada uma composição mista de ambos, dentro de uma mesma atividade econômica”, apontou.
Ao manter o acórdão do TJ-RJ, Nancy também ressaltou que, para além da relação jurídica existente entre a fabricante e a distribuidora, os autos demonstraram que o acidente foi ocasionado pela distribuidora ao transportar a cerveja produzida pela fabricante até o consumidor final.
“Portanto, é inegável a existência, na hipótese dos autos, de uma cadeia de fornecimento e, conforme jurisprudência deste tribunal, a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC”, concluiu a ministra. O processo tramita em segredo de Justiça.
FONTE: https://www.conjur.com.br/2018-ago-09/cervejaria-distribuidora-sao-condenadas-cacos-garrafas-rua. Originalmente publicado em 09/08/2018.